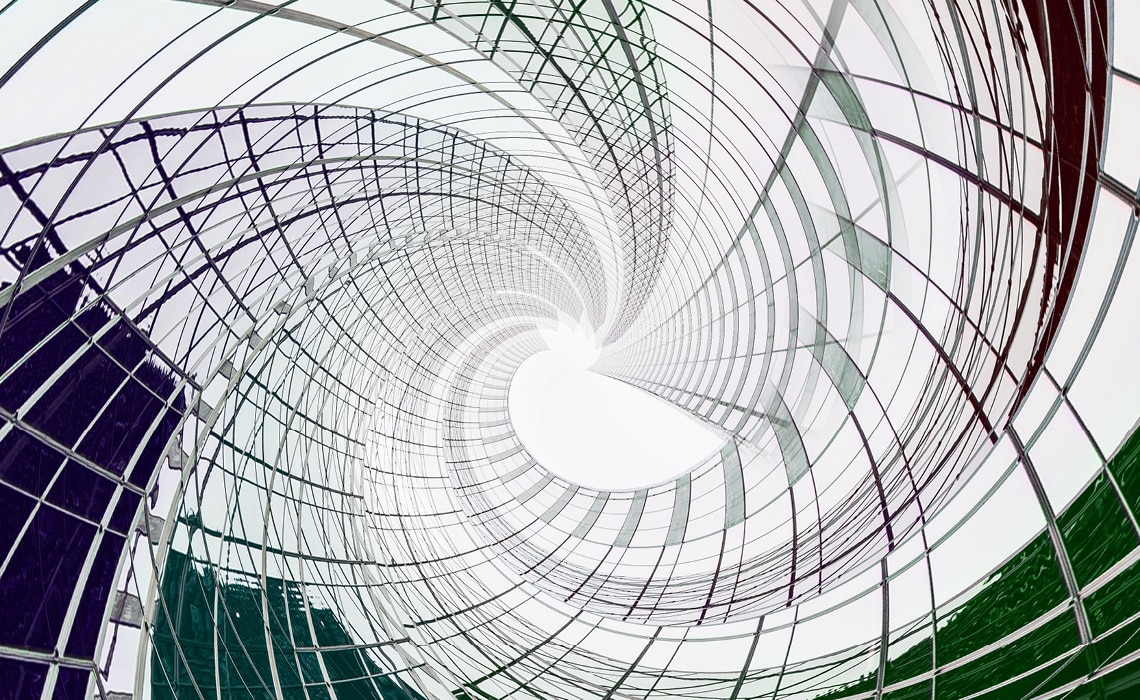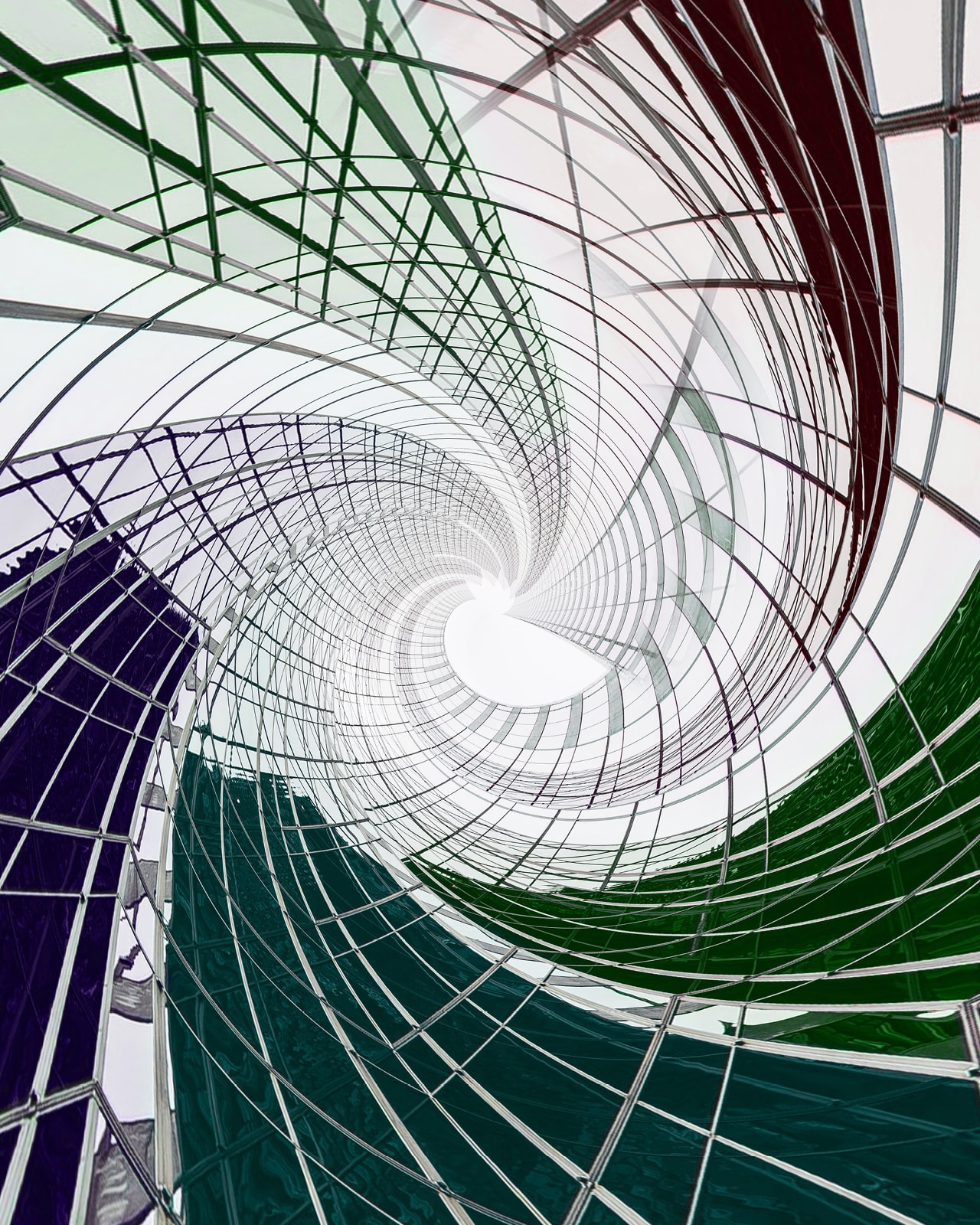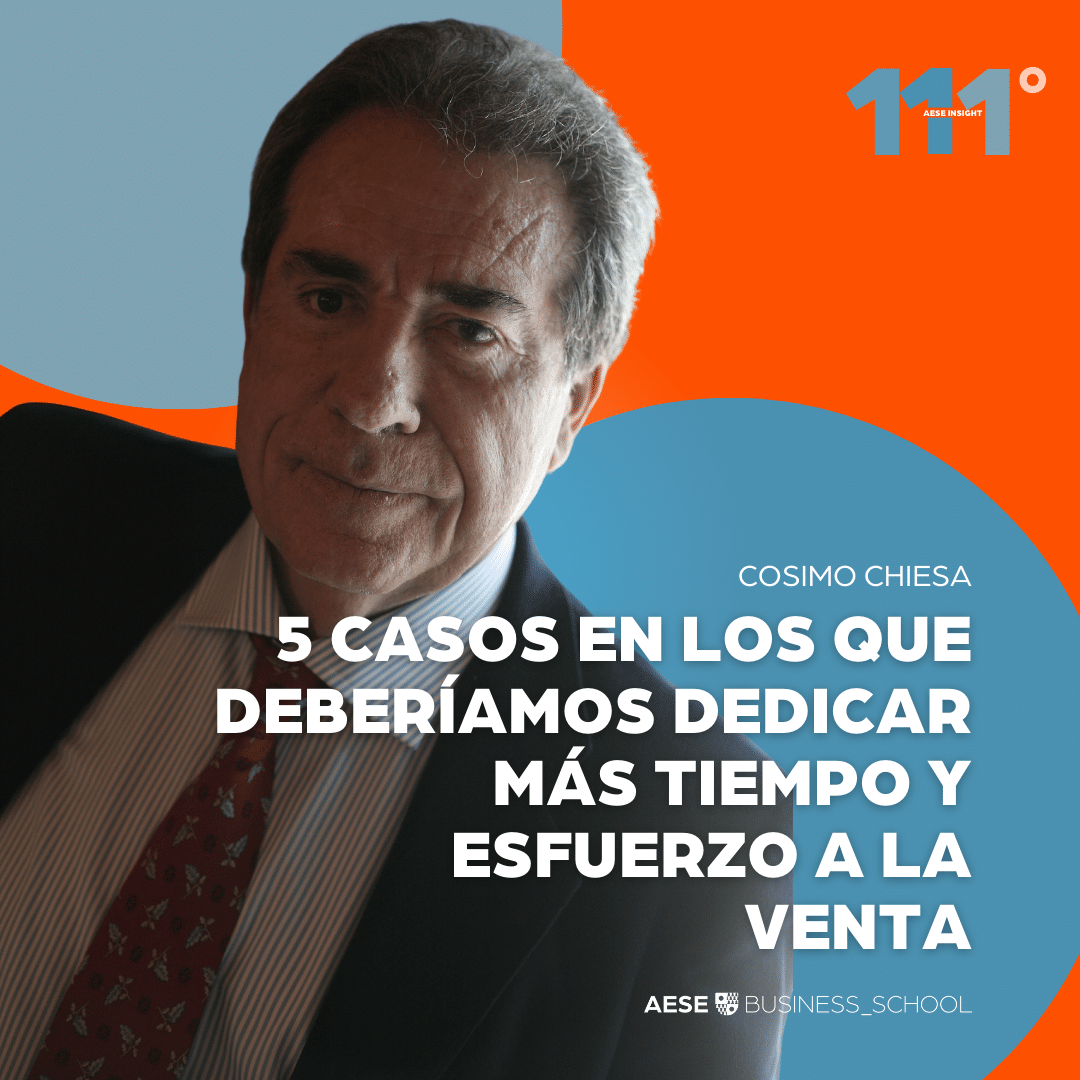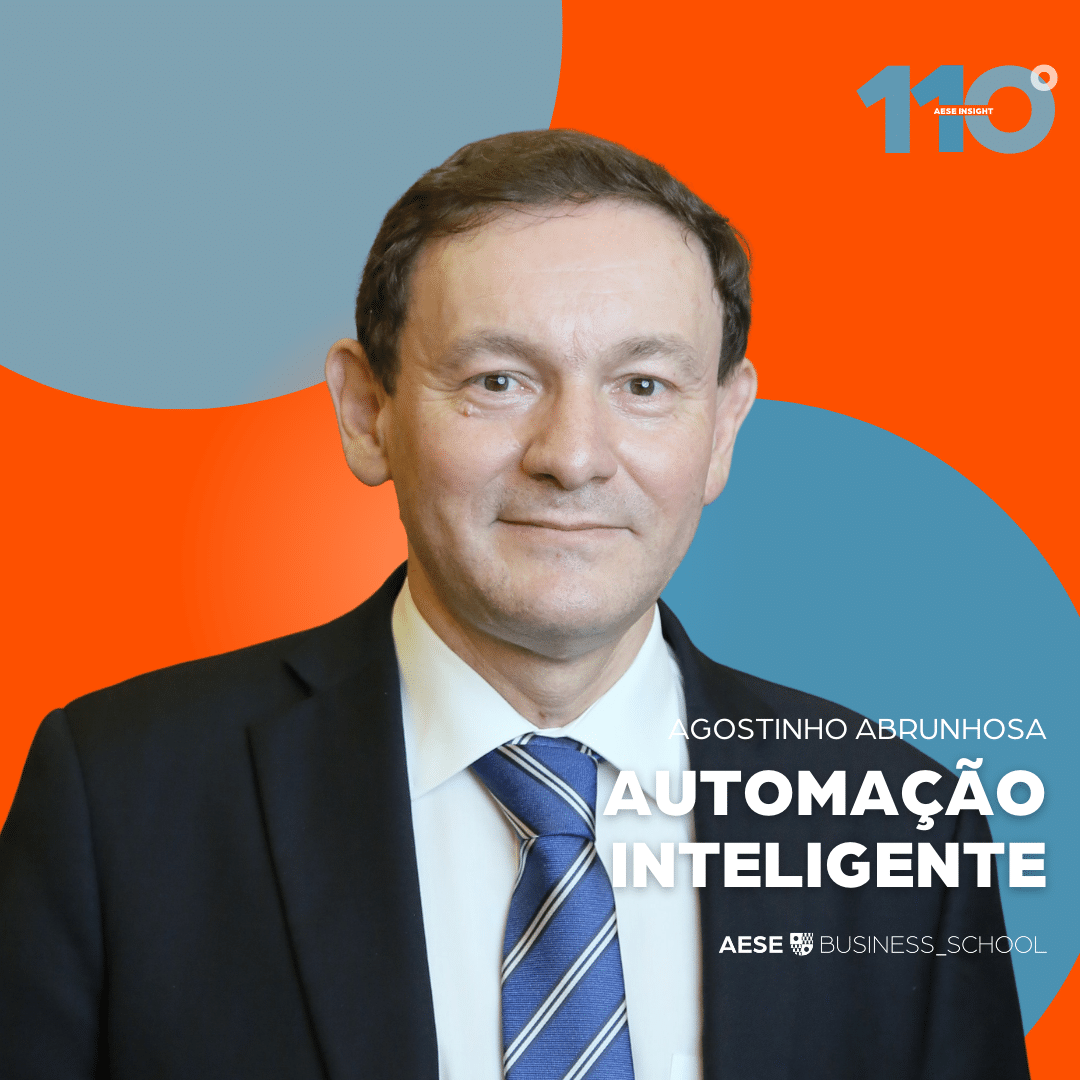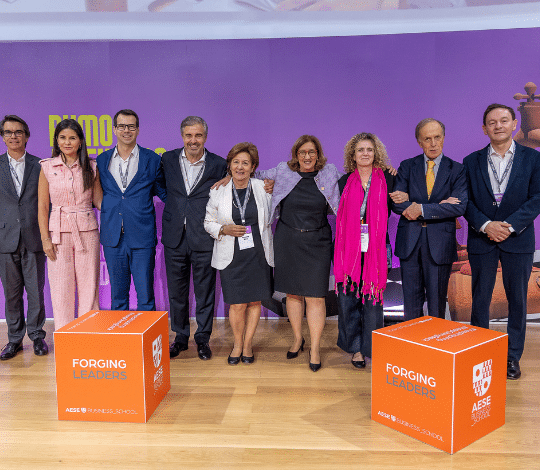O surto do coronavírus gerou, nas últimas semanas, um ambiente social surreal, se não mesmo apocalíptico, alimentado por uma mediatização paranoica (mesmo tendo em conta a gravidade da situação): «as emoções passaram rapidamente da preocupação geral para o fascínio mórbido, depois para o medo, e a seguir para o pânico genuíno, uma vez que muitas das instituições e modos de vida que tomámos desde há muito tempo como garantidos cederam sob a tensão. O pânico gera o seu próprio contágio emocional e espiritual, que pode sentir-se de modo ainda mais assustador do que o próprio vírus. E o efeito é magnificado pela desertificação dos espaços públicos, que muitos sentem como um esvaziamento do seu eu interior.»[1] Nestas linhas, gostaria de sugerir brevemente quatro pistas de reflexão (entre muitas outras que poderiam ser também relevantes, sobre as quais outros se pronunciarão) suscitadas por esta pandemia.
Quatro ideias para além do coronavírus
A fragilidade humana
Em primeiro lugar, a crise do coronavírus acordou, dolorosamente, a consciência da nossa fragilidade – a precariedade e indigência humanas – que tendemos a olvidar em tempos de prosperidade, iludidos por falsas seguranças. Subitamente, inexoravelmente, e por razões que ainda não percebemos inteiramente, milhares de pessoas tremem, sofrem, desesperam e morrem (frequentemente sozinhas), ante a impotência da política, da economia, da tecnologia e da medicina, do progresso e da ciência. A dura verdade é que a ciência não pode mudar, recriar, programar ou controlar o mundo e os homens que o habitam. O máximo que podemos (e devemos) fazer é «dominar a terra» no sentido bíblico de a «cultivar e também guardar», como diz o Livro do Génesis. Nesta linha, é certo que tudo seria muito pior (como aconteceu tragicamente nas pandemias do passado) se não contássemos com os recursos da modernidade, por cujos enormes benefícios no alívio das aflições humanas devemos estar gratos, e que não queremos dispensar. Mas isso é fraco consolo para os que, recorrentemente, veem as suas vidas truncadas «antes de tempo» e para aqueles que os amam. A questão é que a ciência e o progresso – quando animados pela autossuficiência e soberba fáustica ínsitas no «projecto moderno» – não conseguem fornecer o que prometem: segurança, salvação, imunidade ao sofrimento e o paraíso terrestre. Paradoxalmente, a miragem dessa falsa promessa intensifica o padecimento pelas perdas que permanecem e sempre subsistirão[2], e para as quais a visão moderna do mundo não oferece (nem pode oferecer) resposta ou conforto. A ciência e o progresso podem minimizar o sofrimento humano, mas não dão razões, nem sentido, para o enfrentar e suportar, quando é inevitável. A meu ver, só a fé num Deus bom e verdadeiro o pode fazer, sem alienação.
O medo de morrer
Isto conduz-nos ao segundo ponto. A crise do coronavírus trouxe à superfície um imenso medo da morte (a que não sou alheio). A pressa e o zelo com que tantas pessoas fugiram das ruas e do seu local de trabalho e se trancaram em casa – muito mais cedo e mais severamente do que as autoridades preconizaram –, e o modo como viralizaram o seu pânico, revelam o nosso pavor ante a perspectiva da mortalidade e da finitude. Não sei se hoje tememos a morte mais do que em épocas pretéritas, mas não há dúvida de que o nosso tempo lida mal com essa perspectiva e que não se sente preparado para ela. Talvez porque um grande número de pessoas – descrendo ou desesperando da vida eterna – se agarra a esta vida como se não houvesse outra, e ignora que estamos «nas mãos de Deus». Como é natural, a resposta à pandemia está exclusivamente focada na minoração do contágio e no tratamento a doença. Mas isso não resolve a mortalidade dos que morrem nem proporciona meios para morrer bem (algo muito diferente, e até oposto, da eutanásia), o que, até há umas dezenas de anos, estava associado a viver bem. Tampouco acalma a ansiedade dos outros: mesmo adoptando todas as regras da prudência (coisa que devemos fazer), é impossível esconjurar completamente o perigo. A este respeito, a modernidade secular mantém-se silenciosa, porque – pelo caminho, absolutamente centrada no alívio das carências materiais – marginalizou as grandes questões da condição humana: porque estamos aqui na terra? Qual o sentido da minha vida? O acontece depois de morrer?[3]
Este mundo não é para velhos?
A morbidade do coronavírus afecta sobretudo as pessoas mais idosas e frágeis, quer por efeito de «selecção natural» – na medida em que sobrevivem os mais novos, fortes e adaptáveis – quer através de processos de triagem e «discriminação positiva» no tratamento hospitalar, a favor das vítimas mais jovens e produtivas (e com maior probabilidade de cura e esperança de vida), quando o pessoal e os equipamentos necessários não chegam para atender a todos. Isso parece estar a acontecer em Itália e prevê-se que venha a verificar-se noutros países. Aliás, esse procedimento tende a converter-se numa «boa prática» no contexto de escassez de recursos dos sistemas de saúde ocidentais, face ao inverno demográfico. Não ignoro que esta questão é problemática – trata-se de decidir quem vive e quem morre, escolhendo entre a vida de um ou de outro –, até porque tem sido amplamente discutida e não tem solução fácil. Admito que em tempos de emergência possa haver padrões de priorização – para além da ordem de chegada – reflectindo critérios médicos e éticos, bem como preocupações de tipo económico e social. Gostaria apenas de salientar que essa tendência apresenta um desafio civilizacional enorme e pode mesmo constituir uma funesta herança desta crise. Há algumas semanas, um jornalista do Daily Telegraph registou candidamente que «sob uma perspectiva económica totalmente desinteressada, a COVID-19 pode até mostrar-se levemente benéfico a longo prazo, ao abater desproporcionalmente os idosos dependentes»[4]. Por este caminho e com esta lógica, «por quanto mais tempo será socialmente aceitável suportar o direito das pessoas mais velhas a viver os anos que Deus lhes der, e a beneficiar dos cuidados médicos que a sociedade lhes oferece como parte integrante do contrato social»[5]? Por outras palavras, até quando serão os mais velhos – os nossos pais e avós, ou nós mesmos – considerados cidadãos iguais aos outros, com os mesmos direitos de cidadania? Entretanto, dispensamo-los, escondemo-los da nossa vista – remetendo-os para os «lares» (embora saiba perfeitamente que muitas vezes não há, humanamente, melhor alternativa) –, e desviamos o nosso olhar da sua fragilidade e, no mesmo passo, da sua e da nossa própria humanidade.[6] A sua própria existência e presença tende a ser vista como um empecilho do qual convém desfazer-se. E assim, «a vida que requereria mais acolhimento, amor e cuidado, é reputada de inútil ou considerada como um peso intolerável e, consequentemente, rejeitada sob múltiplas formas»[7]. Ora, isto corresponde a uma deriva sinistra. A atitude da sociedade face à vulnerabilidade e finitude humanas manifesta e sinaliza em que medida veneramos (ou não) a igual dignidade humana (independentemente do vigor ou produtividade da pessoa) e faz prova (ou não) dos laços que unem a nossa humanidade comum.
Ver o essencial
Contudo, e para terminar, talvez a irrupção desta pandemia possa contribuir para recentrar as nossas vidas em torno do que é mais importante e significativo. É um lugar-comum dizer-se que as «crises são oportunidades», que a «adversidade nos torna mais fortes» (se não sucumbirmos entretanto…), que «os tempos de perigo são momentos de verdade, em que se prova quem somos», e que «nada será como dantes», etc. Descontando a banalidade – que não é necessariamente falsidade –, a presente situação pode mesmo constituir um abalo salutar. Reparemos num facto óbvio: de um dia para o outro, literalmente, preocupações ingentes, compromissos inadiáveis e tarefas urgentes apagaram-se da nossa agenda ou foram canceladas; a nossa ordem de prioridades alterou-se completamente e foi substituída por outra. Talvez isso sugira que há valores que podemos reordenar na nossa vida (quando regressarmos à normalidade) para que ela seja mais plena; que havia nela coisas a mais e coisas a menos; que a algumas demos demasiado relevo, reconhecendo agora que não valiam tanto a pena ou eram mesmo supérfluas; e, inversamente, que devemos reforçar o investimento diligente em bens mais valiosos: a nossa relação com Deus, a família, a amizade e o serviço aos outros, o trabalho (seja ele qual for), a sabedoria e a liberdade, a alegria e gratidão pelos dons da criação. É sabido que a algumas dessas dádivas só damos verdadeiro valor quando (como agora) nos vemos privados delas. Quando o coronavírus passar – daqui a não sabemos quanto tempo – saboreá-las-emos com um prazer diferente: circular livremente, sem receio da polícia nem medo do contágio (e sem ser preciso passear animais de companhia» ou fazer jogging); respirar sem máscara e a plenos pulmões; jogar, brincar e dançar; encontrar-se, beber café e conversar face a face; cantar e rezar juntos; aventurar a intimidade, apertar a mão, abraçar e beijar. E, nessa altura, estaremos também mais disponíveis para a compaixão e solicitude perante aqueles que – por razões de pobreza, doença, solidão ou ancianidade – não precisaram do coronavírus para estar excluídos da fruição desses bens tão preciosos.
Artigo publicado no Observatório Almedina
[1] Cf. Nathan Schlueter, «Leisure in a Time of Coronavirus», in The Public Discourse, 18 de Março de 2020.
[2] Ibidem.
[3] Cf. L. S. Dugdale, «The Cure for What Ails Us», in First Things, 20 de Março de 2020.
[4] Cf. Jeremy Warner, «Does the Fed know something the rest of us do not with its panicked interest rate cut?», in Daily Telegraph, 3 de Março de 2020.
[5] Cf. John Waters, «COVID-19 and the New Death Calculus», in First Things, 18 de Março de 2020.
[6] Idem.
[7] Cf. João Paulo II, Evangelium Vitae,n.º 12.